A mancha - cruz - 2/8
Depois de o seu filho Daniel morrer, Henrique não soubera mais o que dizer a Anabela, nem como olhá-la nos olhos. Toda a sua cumplicidade, todo o seu amor, se tornaram inacessíveis.
Sentavam-se frente a frente na mesa da cozinha, sem se olharem. Cada um absorto nos seus pensamentos. A comida ficava gelada. Ouvia-se a torneira do lava-loiça pingar.
– Não comes Henrique?
– Não. Não como.
Anabela pegava então nos dois pratos de despejava-os no lixo. Não dizia mais nada e ia-se deitar, ainda vestida, em cima da cama. Henrique saía.
Começou a beber e a frequentar a casa da Dona Maria.
– O que é que fazes aqui, Henrique? Não devias estar em casa com a tua mulher?
– E tu não devias estar a fazer-me um broche?
– Com esses modos, não. Olha que peço à patroa e ela põe-te na rua!...
– Então, guarda a moral para a tua filha. Pode ser que não venha aqui parar.
A mulher levantou-se sem responder. Fez sinal a Sofia, a mais nova, que foi sentar-se junto dele.
– O que é que queres beber? – perguntou-lhe Sofia.
– O que tu quiseres.
Ela levantou-se e trouxe dois whiskeys sem gelo. A música estava demasiado alta. O ambiente era escuro e os reflexos de uma enorme bola de espelhos davam à sala de uma espécie de mobilidade soturna. Era também triste o fraco entusiasmo das mulheres, as gargalhadas dos homens e os seus súbitos silêncios.
Sofia olhou-o sem emoção. Cruzou as pernas e acendeu um cigarro. Depois debruçou-se na sua direção e apertou-lhe uma das orelhas.
– Gosto muito mais de ti. Falas pouco – disse Henrique.
– Queres ir até lá acima ao quarto?
– Claro.
Subiram os dois. Entraram no quarto e fecharam a porta. Era pequeno e tinha demasiada mobília. Uma mobília antiquada, pouco condizente com a idade de Sofia. Podia perceber-se que esta não era apenas uma alcova onde recebia os homens; era ali que vivia. Por cima da cómoda havia um crucifixo.
– O que queres fazer?
– Nada.
– Como assim, nada. Não te agrado? Posso fazer sentir-te bem…
– Duvido.
– Ouve. Isto é esquisito.
Atirou-lhe duas notas para cima da cama.
– Podemos conversar. Embora eu não seja particularmente conversador. Ou deitarmo-nos apenas a olhar para o teto. Mas quando sairmos daqui vais dizer que fodemos e bem.
Toda a gente falava e isso fazia Anabela sentir-se mal. Como uma sobra incompetente. Mas a dor da perda do filho era tão profunda, que, aparentemente, nada a poderia fazer sentir-se pior. Tolerava o comportamento do marido com indiferença, talvez porque continuasse a amá-lo, mas ainda mais porque lhe inspirava pena. Por isso suportava as suas ausências e os olhares desdenhosos das outras mulheres. Mais ainda: sabia que eram apenas putas; e que ele não as podia amar, nunca poderia amar.
Despeitado pelo fraco efeito que as suas visitas à casa da Dona Maria tinham sobre a mulher, e ainda assim incapaz de a olhar nos olhos, deambulava pela aldeia até de madrugada, ora encostando-se em cantos escuros, dormitando; ora mirando as luzes que se coavam nos cortinados e as sombras dos seus habitantes. Tinha inveja das suas vidas sem mácula. Uma mancha terrível cobria-lhe para sempre os olhos, tornando tudo impossível, porque a todo o momento via a cara do filho. Como um véu que se sobrepunha a tudo. E depois pensava: o culpado fui eu, o culpado fui eu, o culpado fui eu… interminavelmente.
Numa dessas madrugadas, passeando-se como de costume pelas sombras, foi desperto dos seus pensamentos de forma inesperada. Quando descia pela rua do alecrim (gostava de observar os gatos que por aí rondavam), pouco antes de dobrar a esquina, concentrado no som dos seus próprios passos, foi sobressaltado por um grito.
– Foda-se… queres matar-me do coração, mulher? Calma, sou só eu.
Era noite de lua cheia e Arminda estava sentada num pequeno poial à beira de casa.
Os cães da vizinhança ladraram por uns segundos, despertos da sua modorra, mas logo sossegaram.
– Desculpa. Não esperava ver ninguém por aqui a estas horas. Ouvi passos. Julguei que fosses um fantasma.
– Talvez seja.
– Que raio andas a fazer a estas horas?
– Que é que tens a ver com isso? O mesmo te pergunto a ti.
– Insónias.
– É isso. Também deve ser o meu caso.
Arminda amava-o desde sempre. Nunca o confessara, mas ele sabia.
Há muito que ela lhe queria falar. Não acerca do seu amor. Mas sobre Daniel.
– Queres fazer-me companhia. Senta-te e dá-me um cigarro.
– Não sabia que fumavas.
– E não fumo. Dá-me um cigarro. Cheiras a álcool.
– É o meu cheiro normal – por vergonha levantou-se.
– Não precisas de te levantar. Deixa-te estar.
Acendeu-lhe o cigarro e voltou a sentar-se. A lua brilhava sobre os telhados. Ouviam-se grilos, com o seu cantar sincopado, e uma coruja adejou no escuro sobre as suas cabeças, como um sopro. Na parede à sua frente desenhava-se uma cruz. Quem a teria colocado ali?
– Como é que estás? Há demasiado tempo que não falamos.
– Bom. Para dizer a verdade, desde que me casei.
– Mentira.
– Verdade. Não sei como o podes negar. Até parece que te fiz algum mal.
– Como assim. Os nossos filhos brincavam juntos… – calou-se. – Desculpa.
– Eu vou andando…
– Fica – e agarrou-lhe a manga. – Encosta-te a mim. Não me apetece estar sozinha.
E sentaram-se lado a lado, com as cabeças pendendo para o centro, absortos, de olhos na lua. Não disseram palavra. Não se beijaram. Nada.
Mas desde esse dia começou a circular o boato na aldeia, de que os dois estavam enamorados, tendo chegado a vias de facto. Por alguma razão, isto pareceu à generalidade das mulheres da aldeia de uma imoralidade sem precedentes.
Anabela pediu, por fim, o divórcio e foi-se embora daquela terra maldita.


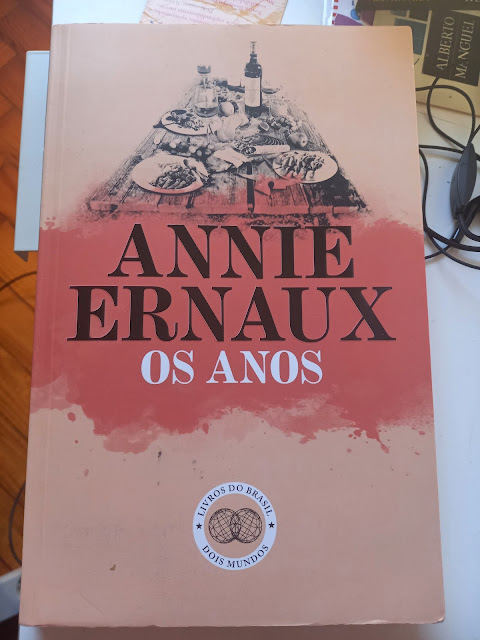
Comentários
Enviar um comentário