O AMANUENSE
Talvez não creiam naquilo que
vos vou contar. Talvez o tomem por mais uma história, como tantas outras, para
entreter. Aquilo que a torna tão inquietante, quanto inverosímil, é, apenas e
só, a sua familiaridade. Está tão próxima da vulgar realidade quotidiana, que é
difícil de acreditar que não seja verdadeira, mas essa pequena distância
parece-nos, por outro lado, intransponível. É como se alguém pretendesse descer
ao fundo de um poço como quem transpõe um degrau de escada.
Ao tempo dos acontecimentos,
eu era oficial-maior da Secretaria de Estado da Fazenda na cidade de Lisboa.
Prestei serviço entre 1866 e 1905, o que constitui para mim motivo de grande
orgulho. Estou agora perfeitamente reformado. Nada me apoquenta. Todos os
desvarios políticos dos últimos anos em nada me beliscaram. Estou demasiado
velho, já não tenho medo de nada. De todas as desventuras da minha vida
profissional, retenho apenas esta história. E posso agora contá-la sem
quaisquer pudores ou reservas relativamente à minha pessoa. Mais do que
comprometedora, a sua natureza é fantástica.
O enigmático personagem de
que vos vou falar prestava serviço como amanuense nesta mesma repartição
pública. Nunca lhe teria dirigido mais de um cortês bom dia, ou sequer uma
ordem, não fossem as mesuras com que os oficiais menos graduados o tratavam.
Apercebi-me que raramente lhe entregavam qualquer trabalho, embora o misterioso
amanuense parecesse sempre ocupado. Por vezes levantava-se e caminhava até à janela
das traseiras, o que não deixava de constituir uma ousadia. Nenhum outro se
permitia a tais liberdades. Ora, apesar de, no meu íntimo, comungar de ideais
mais liberais do que a época aconselhava, tal semente não poderia florescer no
meu disciplinado jardim.
Inquirido o oficial de
serviço acerca do estranho comportamento do amanuense, este rapidamente se
desculpou, prontificando-se a dispensá-lo de imediato. Não a corrigi-lo, a
admoestá-lo, mas a dispensá-lo. Não explicando o seu próprio comportamento,
demasiado permissivo, mas escusando-se
a lidar com o assunto. Como se tal lhe fosse completamente impossível. Curioso,
impedi-o de prosseguir e pedi-lhe, isso sim, que chamasse o amanuense à minha
presença.
Bem sei que era impossível
prever as consequências dos meus atos. A curiosidade é, muitas vezes, a causa
da perdição do mais reto do homens. Não que tenha sido uma perdição conhecer o enigmático
senhor V.. Tê-lo-ia sido, caso tivesse chegado notícia do seu comportamento, e
da minha complacência, a qualquer um dos meus superiores. Mas tal nunca
sucedeu.
A primeira coisa que chamava
à atenção na sua figura era o fato negro, muito justo, quase novo e
impecavelmente limpo. A sua elegância não era própria dos meios económicos
normalmente à disposição de um simples amanuense. Vim a saber, depois de uma
discreta investigação, que vivia numa modesta, mas limpa pensão, a dez minutos
de caminho do escritório. Fazia aí todas as suas refeições. Comia de forma
frugal e era muito magro, com a tez branca e as faces encovadas. Não fossem os
seus olhos verdes, extremamente vivos e atentos, e teria com certeza um ar
doente. Mas não era de todo essa a ideia que projetava. Bastava, pelo
contrário, a sua presença, o seu olhar dirigido, para nos impressionar. Quando
falava, fazia-o com propriedade, dignidade e inteligência. Contudo, nem por um
momento de se vislumbrava o mais breve sinal de ambição – não desejava ser
outra coisa senão aquilo que já era – o que, bem vistas as coisas, é em si um
feito extraordinário. Não se enganem, contudo, pensando que V. era um mero amanuense.
– Senhor V., queira por favor
explicar-me a natureza do seu comportamento – disse-lhe de chofre, simulando
que estava a par de tudo.
– Não estou certo a que
comportamento se refere, senhor.
– Não sei bem que tipo de
feitiço… ou, por outro lado, que tipo de poder julga ter sobre os oficiais de
serviço. Mas previno-o de que não está a lidar com gente da mesma laia. Não sei
que espécie de acordo tem com estes, mas bem vejo que o protegem, permitindo-lhe
certas liberdades que na minha repartição são inaceitáveis. Bem vejo que o
poupam a grande parte do trabalho de cópia. Contudo, intriga-me que, ainda assim,
se mantenha ocupado. Em que outros afazeres aplica a sua bela caligrafia? (Muito
cuidada, devo dizê-lo, embora raramente tenha observado um trabalho seu). Qual
o fito do seu mal direcionado zelo?
– Perdoe-me, mas fico
contente que tenha apreciado a minha caligrafia – e, quando esperava que
continuasse, não disse mais nada. Ficou a olhar-me diretamente nos olhos,
revelando uma impertinência sem limites. Talvez não fosse impertinência; talvez
fosse apenas uma inimaginável desadequação de maneiras, como se não fosse deste
século!
– Estou à espera que me
responda, caro senhor!
– Não desejo ser mal educado.
Perdoe-me alguma reserva da minha parte. Os afazeres da secretaria de estado não
foram descurados. Há outros amanuenses que o asseguram de forma impecável. Não
pretendo retirar-lhes essa satisfação, nem, por outro lado, insinuar que a
instituição que dirige tem um excesso de escriturários. Não é esse o caso. Acho
que o trabalho que desempenho é de extrema importância, embora não o compreenda
totalmente. É exatamente por isso, que procuro ter uma caligrafia extremamente
apurada. Para que não introduza, por esse meio, quaisquer outra distorção, numa
escuta que é já assim tão ténue.
– De que está a falar? Começo
a duvidar da sua sanidade mental!
– Eu próprio duvido. Mas
digamos que apreendi a conviver com este estado de coisas.
Perante esta réplicas
inusitadas, a minha curiosidade aguçava-se ainda mais.
– Vai explicar-me o que é que
escreve durante todo o dia?
– Gostava de o conseguir
explicar. Sinceramente que gostaria. Pois isso seria um sinal de que eu próprio
o compreendia. A verdade é que o compreendo apenas em parte. Tudo o que posso
fazer é mostrar-lho. Tal como fiz a todos os outros.
No momento, desconfiei de que
se tratasse de algum embuste. Que me fosse mostrar algo que me comprometesse;
tal como, com toda a evidência, havia feito com os oficiais de serviço. Escusei-me
pois a fazê-lo naquele momento, procurando obter mais informações junto do
oficial de serviço.
Fui para casa e passei todo o
serão a ruminar sobre o sucedido. No dia seguinte, chamei novamente o oficial
de serviço. E desta vez perguntei-lhe abertamente sobre a natureza do escritos
do amanuense, pois sabia agora que eram do seu conhecimento.
– Prefiro não falar sobre o
assunto, senhor.
– Mas está toda a gente
doida? Como se atreve a sonegar-me informações, sobre algo que se passa aqui
mesmo debaixo do meu nariz!? Ou me diz imediatamente o que escreve aquele
senhor durante todo o dia e porque razão todos o protegem, ou seguir-se-á um
processo sumário que resultará, no mínimo!, na sua expulsão da administração
pública.
– Não desejo esconder-lhe
nada. É apenas demasiado difícil de explicar… Ele diz que lhe ditam aquilo que
escreve. Mas é ainda mais estranho do que isso. Pois não é deste mundo aquilo
que sai da sua pena. Creia que não desejava esconder-lhe nada. Queria apenas
evitar que se envolvesse com conhecimento nesta situação. Talvez devesse dispensar-me.
Com toda a razão o faria. E também ao senhor V.. Mas de nada adiantaria.
– Porque diz isso?
– Todos os outros estão
também envolvidos. Por isso, ninguém se queixa. Estão como que hipnotizados
perante o seu sibilar … Todos eles leem o que V. escreve. E não hesitariam em
segui-lo para onde quer que seja, de modo a assegurar que o continuam a fazer.
Não posso dizer mais do que já disse. Veja com os seus próprios olhos.
E retira nesse momento da sua
casaca um conjunto de folhas manuscritas.
– Todos os manuscritos são
lidos, de mão em mão, sendo depois armazenados numa pasta secreta do arquivo central,
onde ficam guardados, segundo instruções de V., para que sejam revelados em
tempo oportuno.
Ocorreu-me de imediato a
história Xerazade, que contava todas a noites uma história, para que o rei lhe
poupasse a vida. A posição de V., contudo, não era de subserviência. O seu
poder sobre todos os outros era aparentemente total. Talvez a posição de
Xerazade não fosse diferente. É difícil discernir exatamente as relações de
poder que se estabelecem entre indivíduos. Para além da aparência, tecesse-se
uma relação de forças muito diversa.
Recebi em mão as folhas ainda
dobradas, mas escusei-me abri-las de imediato, levado por um receio que não
conseguia explicar.
Só mais tarde, na privacidade
do meu escritório, junto à lareira que dissipava a humidade excessiva daquela
noite de inverno, me permiti a ousadia de o fazer. Desdobrei cuidadosamente o
manuscrito, onde encontrei, uma vez mais, a impecável caligrafia de V.
O que me foi dado a ler é-me
impossível de explicar. Tal como todos os outros, via-me agora também sem palavras.
Transcrever seria a única hipótese de corretamente vos comunicar o que li… por
razões que mais à frente esclarecerei, escusar-me-ei a fazê-lo. Tratava-se de
um pequeno capítulo, que por certo teria seguimento. Mas estava escrito numa
linguagem bem diferente da nossa. Estava escrito em português, mas não numa
grafia e linguagem correntes, mencionando por vezes palavras totalmente
desconhecidas. Para além disso, o seu apuramento era tal, que nada se poderia
corrigir ou reparar. Isto, mesmo não o compreendendo.
Soube depois que V. se
limitava a transcrever o que ouvia. Alguém lhe sussurrava o que havia de
escrever. Mais do que isso: a sua própria mão era dirigida, comandada à distância.
Não apenas uma distância física, ouso dizê-lo, mas uma distância temporal.
Aquelas palavras, estou convencido, vinham de outro mundo ou do futuro.
Porque razão tinham aqueles escritos
de ser guardados? Na minha opinião, para que pudessem ser lidos no futuro, e
assim completar o círculo, que, de todas as formas, é sem dúvida a mais
perfeita e inequívoca.
V. também escrevia sob seu
próprio comando. Embora fosse, é claro, difícil de discernir o que era o seu
comando e o comando de outrem. Pois é impossível de destrinçar aquilo que
somos, daquilo em que nos tornamos. E acreditava que também era ouvido por
alguém. Alguém que também registaria, algures, as suas palavras.
Conversámos entre nós. Convencemo-nos
de que era este o mecanismo sobre o qual assentava todo o devir. De que outra
forma se poderia conceber, ao mesmo tempo, o progresso e eterno retorno a que
nos vemos confinados.
A leitura dos textos de V.,
ainda que circunstancial e passageira, conferia-nos inestimáveis perspetivas e
conhecimento de outra forma inalcançáveis. Mesmo que não compreendêssemos tudo.
A sede de poder engenha
razões. V. tinha, absolutamente, de continuar o seu trabalho, sob pena de todo
o universo sair das engrenagens e se imobilizar. Como uma fotografia – essa
nova invenção de brometo e prata, que para nós já não constituía novidade.
O conhecimento mais valioso
não era, porém, o de natureza técnica; daquilo que poderíamos antever do
futuro. Era o conhecimento sobre a condição humana, ali escrito e reescrito em
infinitas iterações, sob a forma de histórias, que eram afinal o protótipo de
todas as histórias, tal era o seu grau de apuramento. Noutros casos era uma
mera convocação de emoções, por conjugação não entendível de palavras, urros e
lamentos. Como se fosse música ou perfeita poesia.
Eu, tal como todos os outros,
vivíamos agora na expectativa da próxima história, do próximo capítulo, do
próximo urro. V. estava, como sempre, perfeitamente calmo; dono e senhor de
todos nós.
Era também perfeitamente
claro que nenhuma daquela informação poderia alguma vez, cair nas mãos erradas.
A Secretaria de Estado da Fazenda, por ser o sítio menos evidente, era de facto
o mais seguro. Ninguém consultava aqueles arquivos mortos, sendo que os guardas
eram também cúmplices. Nenhum governante poderia alguma vez colocar-lhes a
vista em cima, sob pena de interromper o ciclo. Do mesmo modo, e por maioria de
razão, também não se deviam tornar do conhecimento geral.
A história terminou de forma muito
simples, contudo, curiosa. V. desapareceu. Simplesmente desapareceu. Não se
trata aqui de não ter vindo no dia ou semana seguinte. Não. Segundo vários
relatos, como tantas outras vezes, levantou-se da secretária e dirigiu-se até à
janela das traseiras. Segundo N., o moço de recados que estava sentado junto à
entrada, talvez a suas feições fossem, daquela vez, diferentes do habitual. Mas
mais ninguém terá reparado nisso. Todos levantaram por um momento os olhos do
seu trabalho e logo voltaram a baixá-los. E quando, persentindo uma qualquer
falta, os voltaram a erguer, V. já lá não estava. Evaporara-se.
Naquele dia, cada um dos
homens, foi para casa com um peso no coração. Cada um deles, soturno e
cabisbaixo. No dia seguinte, na ausência de novos escritos, depressa e em
conivência, procurámos a reserva do arquivo central. Não compreendereis por
certo o estado de agitação que nos movia. Tão grande quanto a deceção que nos
aguardava. Também estes haviam desaparecido.
Levantaram-se várias
hipóteses. Os guardas juraram que ninguém poderia ter levado o arquivo de V..
Teria desaparecido em concomitância com este? Ou seria o seu roubo a causa do misterioso
desaparecimento de V.?
Parecia impossível sabermos
quando e como havia desaparecido o arquivo. As últimas folhas que V. deixou
escritas no seu posto de trabalho continham apenas uma ladainha ininteligível.
Mas, talvez por serem as suas últimas palavras, nunca me esqueci delas.
Ouvi-as, anos mais tarde,
vociferadas por um louco, junto ao cais das colunas. Subitamente atento,
reconheci um dos antigos guardas, com a face descarnada pela loucura. Quando me
reconheceu, jogou-se a meus pés, continuando a ladainha, entrecortada por
pedidos de perdão.
Nos seus olhos infectos
brilhava o fulgor que outrora vira no amanuense.
– Que fizeste tu?
– Comi-o. Folha a folha,
comi-o. Palavra de honra que o fiz. Queria-o para mim e mais ninguém. Bah bla uh aghnu
zá!
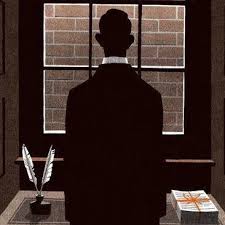


Comentários
Enviar um comentário