A MORTE DO TIO
Quando o tio Orlando morreu, todos seus sobrinhos, os dois filhos e a filha da sua irmã Olga, reuniram-se para o funeral.
Orlando, deixara neste mundo apenas uma filha, de seu nome Fátima, que cuidara dele até ao último dia, e que agora ficava absolutamente sozinha, pois não casara, nem tivera filhos. Há dois anos enterrara a mãe e agora haveria de o enterrar o pai.
Os sobrinhos (e respetivos apêndices amorosos) reuniram-se, como é hábito nestas circunstâncias, sem mais dilações. Estavam, é verdade, todos tristes. Mas, à medida que a conversa se desenrolava, deixaram-se contagiar por uma alegria imprópria. A recordação da sua fraternidade, dispersa e interrompida pela vida adulta, insinuava sorrisos pouco adequados à guarda de um morto.
– Os miúdos, graças a deus, ficaram com a minha sogra. Não iam perceber – disse Maria.
– Pois, claro que não – assentiu Teresa.
– Eu tenho 40 anos e também não percebo. Acho perfeitamente normal que eles não percebam – disse Luís. – Se fosse necessário perceber seja o que for para existirmos, evaporávamo-nos todos neste preciso momento. Eu próprio lhes explicaria, se o conseguisse compreender. Não entanto, não vejo que a incompreensão seja um impedimento para nada. Não haveria problema nenhum em assistirem a um velório de uma pessoa de quem gostavam muito. Toda a gente gostava muito do tio… embora quase não o conhecessem.
– Por amor de Deus, Luís – disse a irmã com enfado.
– Não lhe ligues. Sabes como ele é – disse a Teresa.
– Queres poupá-los, mas talvez lhes faças mal. Qualquer tentativa deliberada de educação, deverias sabê-lo, é um risco. É preferível simplesmente não interferir. Devemos limitarmo-nos a existir a seu lado. Isso já é mais do que suficiente. Dar-lhes espaço para conhecer e experimentar. Com toda a probabilidade, vão ser como tu. Ou então, se insistires demasiado, procurarão ser exatamente o contrário. Em ambos os casos, será por certo um erro. Pois ninguém pode ser como ninguém, nem o seu contrário. Não sem algum condicionamento. Não sem algum desconforto. Sem alguma pressão. O problema da pressão, minha irmã, é que operamos sem manómetro. E o resultado é frequentemente infeliz, se não trágico.
– Não me venhas com essas tretas existencialistas. Gostas de estar o tempo todo com o nariz enfiado nos livros, sem ninguém te chatear. Estás-te perfeitamente a borrifar para o resto do mundo e depois vens dizer que não queres condicionar ninguém.
– Talvez seja verdade. Mas a tuas certezas, são também uma espécie de autismo. Talvez pior do que o meu. Como podes estar tão certa acerca da melhor maneira de viver, ao ponto de a impores aos teus filhos.
– Calem-se os dois, por favor. Deixem-me curtir a minha melancolia – disse o André, o mais novo, revirando os olhos, com a nuca apoiada de encontro à ombreira da porta. Tinha a cara morena e a barba meio-crescida, bem aparada.
– Quando tiveres filhos falamos – replicou ainda Maria.
– Não quero filhos. Mas já fui um – disse Luís, não conseguindo evitar um olhar de soslaio para Teresa. – E não é existencialismo. Fora de França, existencialismo é apenas ansiedade.
– Olhem lá, o velho ainda tinha massa? – perguntou André.
– Estou a ver que estás muito melancólico, André.
– O que foi? É uma pergunta legítima.
– O teu pragmatismo assusta-me. Por esta altura o cadáver do tio já deve ter arrefecido. Por que razão não haveríamos de esquadrinhar os seus pertences?
– Fico com o cachimbo. Acho que assenta bem na minha personalidade. É intelectual.
– O cachimbo é intelectual?
– Não o cachimbo, obviamente. Acho é que o seu cheiro adocicado. E o fumo.
– Devias sair mais, mano. Apanhar sol. Arranjar uma namorada. Ah, ah!
– Passo o tempo todo a dizer isso à Teresa. Vê se a convences.
– A ir contigo?
– Não, a deixar-me arranjar uma namorada.
– Importam-se de demonstrar algum respeito!
Nesse momento entrou Fátima, a filha do defunto. Todos se endireitaram. Os risos e as vozes cessaram abruptamente e todos tiveram vergonha. As mulheres foram as primeiras a recuperar, aproximando-se com um gesto de consolo. Os homens ficaram hirtos, como habitualmente nestas circunstâncias.
Fátima vinha acompanhada pela tia. A cara de ambas contorceu-se por um momento à entrada da capela. Perante outras pessoas, a recordação do defunto, do seu desaparecimento, provocava uma comoção irreprimível. Quando fixamos durante muito tempo a chama de uma vela, a sua súbita extinção provoca uma reação semelhante, como um susto, embora nesse caso seja possível dominá-la quase de imediato. Pouco depois chegou o marido de Maria, com as chaves do carro na mão, e ainda preocupado com o seu precário estacionamento. Acenou aos presentes e baixou os olhos.
Já há muito tempo que não viam a prima Fátima. Envelhecera. Estava completamente vestida de negro. O seu rosto, sem lágrimas, desenhava a triste vida a que se devotara. Primeiro a mãe. Depois o pai. Ambos com doenças graves, física e mentalmente debilitantes. Cuidou de ambos até ao fim. Abdicando de tudo. Talvez não por eles, mas por ela própria. Escusara-se a viver, o que pode constituir um grande conforto. Agora, mais do que a saudade dos que partiram, horrorizava-a a ideia de que o seu propósito desaparecera. Tinha agora de arriscar. De arriscar um sorriso. Arriscar a ser amada e rejeitada. Preferia ficar de luto para sempre. Para sempre triste e fechada.
Sentaram-se todos na sala, em redor do caixão. Àquela hora não havia mais ninguém. Talvez não aparecesse mais ninguém. Estiveram calados durante cinco minutos, olhando em frente. Depois, Fátima baixou-se, parecendo ajeitar qualquer coisa nos sapatos, mas demorando-se mais do que seria de esperar. Todos repararam. Pareceu tremer e quando por fim se endireitou, tinha o rosto coberto por lágrimas e soluçava convulsivamente, sem controle. Todos a rodearam, lamentando a sua perda, confortando-a. Não poderiam adivinhar que não era a sorte do pai que ela lamentava, mas a sua própria. Estava agora desorientada, sem qualquer propósito. Não sentia alívio pelo fim do seu sacrifício, mas sim a falta de um objeto de devoção.
Pouco depois, Olga quis ver o rosto do morto. Aproximou-se do caixão e ficou por momentos parada a olhá-lo. Orlando estava absolutamente quieto. Ligeiramente inchado. Voltou para o seu lugar arrependida. Esta seria, durante muito tempo, talvez para sempre, a imagem que lhe viria à recordação quando pensasse no irmão. Tentou, em vão, recordar-se de como ele era em criança. Dentro de pouco tempo chegaria a vez dela. Tudo terminaria. Isso, em si, não era assustador. Tinha apenas medo de sofrer. De ter dores. E de toda em qualquer indignidade que acompanhasse a sua decadência.
Todos se ocupavam agora com os seus pensamentos.
Maria pensava em com o marido era um parvo. Não havia outra forma de o colocar. Casara com um parvo. E dele tivera dois filhos. Dois. Não soubera, sequer, parar depois do primeiro. Os filhos tornaram tudo pior e ao mesmo tempo impossível de resolver. Portanto, restava-lhe amargurar. Ou arranjar um amante. Já pensara nisso várias vezes. Invejava os irmãos – aos homens tudo é permitido, estão isentos de culpa.
Luís pensava em como tudo era uma treta. Uma treta. Ele próprio era uma treta. E sabia disso. Maria tinha razão. Era um autista declarado e não sabia nada, de nada. De resto, tudo resto, era uma treta. Ele limitava-se a fingir como todos os outros. Ou será que era diferente para os outros?
Para André, tudo era simples. Talvez por exaustão, os pais exerceram pouca influência sobre ele, o que se provou benéfico. Tinha tanta confiança em si, como desprezo pelas regras dos outros. Mesmo quando ficava infeliz, não via isso de forma negativa: era apenas natural e pouco refletido. Naquele momento, pensava apenas nas pernas de Lídia e na sua terminação nervosa. A morte e a infelicidade escorregavam nele como sabão. Como a própria mulher do patrão. Os irmãos eram obviamente idiotas, pois não sabiam que as regras eram coisas imateriais, e em grande medida arbitrárias, que não tinham nenhuma propriedade ou poder especial. Eram apenas obstáculos mentais. E onde os outros viam barreiras, ele via oportunidades.
Entretanto, na sala, independentemente das cogitações de cada um, a presença da morte foi-se tornando gradualmente mais opressiva. Era já percetível o estalar secular da madeira do caixão. A quase imobilidade das partículas de pó junto à cortina. A inação alastrava como uma sombra ao fim do dia. Negra como um xaile. Disposta a morder a meio de um beijo.
Agora, de nada interessava o que o tio Orlando tinha feito durante toda a sua vida. Desde que nascera, até que morrera. Toda a corporização dos seus atos desagregava-se irremediavelmente. Confundia-se. A sua memória era soprada para sempre. Era passado, irremediavelmente passado, e irrelevante. Todos os charutos, cachimbos e conhaques franceses. As gargalhadas sonoras. As amantes. A tosse. Os esgares. As dores. Tudo perdido, para sempre.
Os atos humanos, embora irrelevantes, são da maior importância para nós. E isto não é um paradoxo. Não nos resta mais nada, são tudo o que somos e podemos. Talvez a escrita possa fixar alguma coisa dos mortos – pensou Luís. Talvez não estejam perdidos para sempre. É uma espécie de clube social onde podemos conviver livremente com os nossos fantasmas e chamá-los à razão.
A vida humana revela-se frequentemente uma tragicomédia. Subitamente, todas as amarguras nos parecem cómicas e todos os sorrisos se nos volvem trágicos. Nada pode ser encarado tal como é, porque tudo é uma e outra coisa.
Maria amava o marido embora ele fosse parvo. Luís eram tão inteligente, quanto idiota. Teresa tinha um caso com um homem mais novo. O André talvez não fosse feliz e Fátima se não foi, poderia ainda vir a sê-lo.
Como eram cómicas as suas invejas. E trágicas as suas pequenas vitórias.
Olga começou a chorar. Fazia-o em silêncio e ninguém reparava nela. Apenas o balançar do seu torso a denunciava. Como se tivesse um segredo por revelar, cerrava os lábios e franzia os olhos.
– O vosso tio… o teu pai, Fátima… o meu irmão… tinha uma última…
A princípio quase não a ouviram, mas lentamente todos viram o olhar na sua direção, abandonando os seus pensamentos. Com as pestanas húmidas, levantando o sobrolho, ou esticando o queixo fremente, todos escutavam atentamente.
– O Orlando… tinha uma... uma última vontade – Olga fez nova pausa e endireitou-se na cadeira.
– O que foi mãe? Diga de uma vez.
– Disse-mo numa das últimas visitas: queria ser cremado.
– Cremado? Nunca me tinha falado disse antes.
– Mas porque não disse mais cedo mãe?... Agora já está tudo tratado para o enterro.
– Porque não queria que ele fosse queimado! Ai Jesus!
– Tem a certeza que lhe disse isso? É primeira vez que ouço essa história.
– Mas porque não quer que o tio seja cremado? Se era essa a última vontade dele?
– Porque não quero. Não quero e pronto! Foi por isso que o não disse antes, mas não conseguia escondê-lo por mais tempo. Não o quero num vaso… não é católico.
– Ó mãe, por amor de deus. Qual é o problema? Acha que deus não atende a todos e em todo o lado?
– Mas que importa a vontade do tio? Cabe-nos a nós decidir. A ele infelizmente nenhuma diferença fará.
– Não se brinca com a última vontade de um morto. Estás a gozar?
– Mas se perturba a mãezinha, porque não havemos de atender à sua vontade?
– Ainda por cima, agora já está tudo tratado com a funerária. É uma chatice.
Fátima estava calada. Não pronunciou uma única palavra.
Sem que ninguém percebesse, enquanto os outros discutiam, levantou-se e saiu.
Lá fora, o crepúsculo pousava já sobre o jardim junto a igreja. Levanta-se um vento fresco, que lhe soprou a camisa negra de encontro ao peito, causando um arrepio.


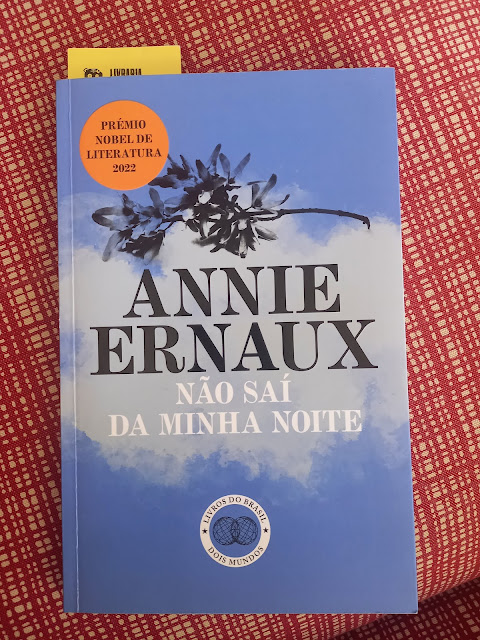
Comentários
Enviar um comentário